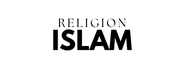Caro irmão,
O conhecimento, geralmente expresso em termos gerais, é entendido como a relação entre o sujeito e o objeto, ou como o resultado de um ato de conhecimento assumindo uma forma específica de expressão. Da mesma forma, como é um resultado, o conhecimento também é encontrado com a palavra “malumat” (informação).
Também se diz que alguém que conhece um assunto a fundo o compreende em todos os seus aspectos e áreas, o domina completamente e se torna um especialista nele.
Assim como o termo usado para expressar a certeza na informação, termos como “aproximadamente” são usados para expressar situações em que a certeza na informação é aproximada ou afastada.
A ignorância, que é o oposto da informação, é expressa pela palavra “ignorância”.
Os dicionários de terminologia e as fontes filosóficas clássicas definem o termo “conhecimento” à luz das diversas correntes que surgiram na história do pensamento islâmico. Observa-se que as diferenças entre essas correntes conferem diversidade e riqueza às definições de conhecimento. O primeiro filósofo islâmico define o conhecimento como…
De acordo com ele, o conhecimento é “a formação de um juízo definitivo na mente sobre a existência de seres cuja existência e continuidade não dependem das ações humanas”.
A descrição da informação de ‘ é a seguinte:
Como se pode ver, nesta última definição, o ato de conhecer é considerado como um processo de abstração. As definições de sábio da Irmandade da Pureza, por outro lado, são feitas considerando-se mais o conhecimento científico do que o conhecimento filosófico.
De acordo com essa definição, o conhecimento exige uma completa correspondência entre o ato de conhecer e o objeto a que se refere. Segundo Cürcânî, os filósofos (hükemâ) definiram o conhecimento como “a formação da imagem de algo na mente”. O termo “sûret” (imagem) nessa definição bastante comum do conhecimento é a palavra-chave e indica que o conhecimento se forma pela abstração da forma do objeto, por meio do ato de conhecer.
A definição de conhecimento, tal como transmitida por Jurjani, baseia-se na ideia de que o conhecimento não é uma forma produzida pela mente, mas sim que existe de fato, embora oculto, e remete ao termo “keşf” (descoberta) no sufismo, que significa “revelar o que está oculto”. Observa-se também que o autor define o conhecimento como uma faculdade pela qual se percebe o universal e o particular. Essa faculdade é uma qualidade (sıfatün râsıha) inerente à profundidade da existência humana, ou seja, a razão. Assim, razão e conhecimento são identificados. Com essa força, o eu “atinge o significado de algo”. Essa atinge (vusûl) expressa o conhecimento como resultado do ato de conhecer. Entre as definições mencionadas, a mais adequada à definição moderna de conhecimento é a de…
Por outro lado, ele transmite a seguinte definição, atribuída aos filósofos: “É a percepção de um conceito ou de uma proposição, quer esta expresse certeza ou não”. Tehanevi, ao mencionar que alguns pensadores restringem os limites dessa definição a “proposições que expressam certeza”, indica que a “percepção” é um evento epistemológico, e não uma percepção sensorial em sentido psicológico. O autor, assim como Jurjani, lembra que o conhecimento também é expresso por palavras como *tevehhüm*, *tahayyül*, *taakkul*, mostrando a paralelismo entre o conhecimento e outras atividades mentais. No entanto, o conhecimento é, em última análise, o resultado dessas atividades que alcançaram um julgamento ou formaram um conceito.
Embora o conceito seja usado como sinônimo de conhecimento, ele tem significados mais específicos do que o conhecimento em geral.
Enquanto o objeto do conhecimento intuitivo (ma’rifat) são as existências simples, o conhecimento (ilm) é o conhecimento das existências compostas. Por esse motivo, em relação ao conhecimento de Deus, usa-se o verbo (bildi) e não o verbo (bildi).
A natureza universal e particular do objeto do conhecimento também é uma razão para a distinção. De fato, como Ismail Fennî apontou, a palavra “ma’rifet” (conhecimento intuitivo) pode ser usada para descrever a compreensão de entidades particulares e simples, enquanto a palavra “ilm” (ciência) pode ser usada para descrever a compreensão de entidades universais e complexas; por esse motivo, Deus é chamado de “alîm” (o Sabe-Tudo), mas não de “ârif”. Além disso, “ma’rifet” é um conhecimento que ocorre apenas sobre algo cuja existência é conhecida. Nesse sentido, “irfan” (sabedoria), que é sinônimo de “ma’rifet”, é usado para descrever o conhecimento sobre algo cujas obras são compreendidas, mas cuja essência (zât) não é compreendida. Essas distinções mostram que “ilm” tem um significado mais forte e amplo do que “ma’rifet”.
No Alcorão, o conhecimento (ilim), em seu significado mais comum, é o conhecimento que vem de Deus, dado por Ele mesmo. Aqui, a palavra tem uma validade absoluta e objetiva, pois se baseia na verdade, na única verdade, no sentido literal da palavra.
No sentido em que se identifica com a revelação, o conhecimento significa conhecimento certo, e, com a implicação de que, graças a esse conhecimento, a era da Jahiliyya (ignorância) foi encerrada, o significado da palavra é ampliado para incluir o conceito. Como mensagem divina, o conhecimento também tem a característica de ser uma prova em si mesma: o conhecimento no versículo e a prova no versículo expressam conhecimento certo e comprovado.
Além disso, a mensagem divina também tem a característica de guiar o conhecimento humano.
Primeiramente, considerando que a revelação descreve o ser humano, seu destinatário, como dotado de faculdades de raciocínio e conhecimento, ela deve incitar e direcionar o ato de conhecer.
Portanto, o conhecimento revelado não é um conhecimento que torna desnecessária a ação de conhecer do homem, mas sim princípios e preceitos que possuem um caráter final e absoluto, que conduzem essa ação à verdade, ao bem, à beleza e à perfeição. Insiste-se também, como explicitamente indicado no Alcorão, que o homem utilize os meios de conhecimento a seu dispor perante esses conhecimentos revelados.
Do ponto de vista do problema do conhecimento, observa-se que o Corão identifica a fonte do conhecimento. A menção conjunta do olho, do ouvido e do coração (por vezes como “fuâd”) no Corão, juntamente com a ênfase na função racional do coração, é notável.
A transformação mútua do saber e da crença diante da revelação é natural. De fato, em princípio, as percepções sensoriais e racionais são conhecimentos empíricos e teóricos que a apoiam e corroboram. Por outro lado, o conhecimento ao nível sensorial e racional não possui a capacidade de abarcar o conhecimento absoluto. O Corão, ao anunciar que a mente humana é inicialmente um tipo de consciência, indica que os conteúdos da consciência que formam a razão são posteriormente constituídos por experiências. Essa constatação, em certa medida, legitima algumas teorias do conhecimento empiristas.
Considerando o valor do conhecimento no Alcorão, nota-se a importância do conceito de certeza. Os versículos que mencionam termos como “(conhecimento mental certo)”, “(observação clara e precisa)”, “(experiência certa, realização do conhecimento por meio da vivência)” são notáveis nesse aspecto.
e é fácil perceber que os termos também estão relacionados inversamente com o conceito.
Deve-se também chamar a atenção para termos como consciência, compreensão e conhecimento, que indicam a relação entre o conhecimento e a percepção sensível ou intelectual, ou que identificam esses dois tipos de percepção.
É possível interpretar, sob a perspectiva do conceito de conhecimento, numerosos versículos do Alcorão que se referem aos fenômenos de ouvir, perceber, pensar, compreender, saber e crer. Esses versículos permitem uma análise disciplinada e sistemática das questões que podem ser levantadas sobre o conhecimento.
Independentemente de suas fontes, valor e objetos, o conhecimento religioso, filosófico, científico, técnico e popular são graus e formas específicas do conceito geral de conhecimento. Nesse sentido, o conhecimento é tão antigo quanto a humanidade, ou seja, desde que o homem existe como sujeito, o conhecimento lhe é inerente.
No entanto, a reflexão sobre o próprio conhecimento, ou seja, a tentativa de estudar o ato de conhecer, começa com o surgimento do pensamento filosófico. Por exemplo, na filosofia grega dos séculos VI e V a.C., observa-se que os sofistas, Platão e Aristóteles abordaram o conhecimento como um problema. Antes de serem estudados sob a disciplina que JF Ferrier denominou no século XIX, as análises sobre a mente humana e a faculdade de compreensão realizadas pelos filósofos John Locke no século XVII e David Hume no século XVIII colocaram a questão da origem do conhecimento na agenda de discussão da filosofia moderna. Essas discussões constituíram o ponto de partida de Immanuel Kant (1724-1804), que criticou a razão e o conhecimento humanos em todos os seus aspectos.
As ideias desenvolvidas ao longo da história do pensamento islâmico sobre os mesmos temas, embora possuam principalmente as perspectivas apresentadas pelo Alcorão, diferem sob a influência de diversas correntes de pensamento e suas concepções de homem, mundo e Deus.
Na filosofia islâmica, a percepção interligada da física e da metafísica, a estreita relação entre o conhecimento e a fé, e a avaliação conjunta do ato de conhecer do homem com a autoridade da mensagem divina levaram a que ela adquirisse significados teológicos, filosóficos e psicológicos.
Uma das questões mais importantes que determinam o conteúdo teológico foi constituída pelas comparações entre o conhecimento (ilm) e a palavra (kalām) de Deus. O conhecimento e a palavra de Deus foram interpretados, dentro do contexto dos atributos divinos, em debates por vezes acalorados, que levaram ao surgimento de diversas seitas. Os filósofos islâmicos, por sua vez, quase equipararam o conhecimento de Deus à sua criação, adicionando um caráter ontológico ao conteúdo teológico da questão, enquanto os místicos abordaram o conhecimento divino principalmente como a verdadeira fonte do conhecimento.
Observa-se que os teólogos concentraram seus estudos epistemológicos principalmente na questão da possibilidade do conhecimento, e posteriormente examinaram a fonte do conhecimento. Os filósofos, por outro lado, analisaram as questões epistemológicas no âmbito da psicologia racional. Na abordagem dos místicos, o primeiro aspecto que chama a atenção são suas atitudes que atribuem mais importância ao conhecimento intuitivo do que ao conhecimento teórico. As discussões intelectuais entre os membros dessas três correntes principais ocupam um lugar importante na acumulação de conhecimento da história do pensamento islâmico no campo da epistemologia.
A ênfase que os teólogos colocam, de forma geral, na ideia de que o conhecimento é possível para o ser humano, visa tanto estabelecer uma base sólida para a ciência teológica de caráter teórico, quanto rejeitar veementemente as atitudes céticas e relativistas das correntes que eles examinam sob o nome de “sûfestâiyye”, que duvidam da possibilidade de conhecimento objetivo ou o consideram totalmente impossível.
Os teólogos, com suas sentenças categóricas, afirmam que as coisas possuem uma realidade objetiva e cognoscível, buscando essencialmente enfatizar a possibilidade do conhecimento. Outra visão que dá sentido a essa premissa é a crença de que Deus criou este mundo inteiro em uma ordem específica. A questão da fonte do conhecimento, por sua vez, é geralmente examinada sob o título de (esbâbü’l-ilm), sem delimitações precisas como empirismo ou racionalismo, e é identificada como sentidos saudáveis, razão sã e informações corretas.
Deixando de lado os Mu’tazilitas, que insistiam na força e na prioridade da razão como fonte de conhecimento, não se pode dizer que os teólogos anteriores a Máturidí (m. 333/944) deram importância ao assunto em questão. A partir dele, a questão do conhecimento começou a ser abordada por quase todos os teólogos sob títulos independentes.
De fato, enquanto seu contemporâneo não abordou a questão do conhecimento de forma independente, observa-se que esse tema ganhou importância nas obras de teólogos renomados posteriores. Entre eles, podem ser citados Bâkıllânî (falecido em 403/1012), Abdülkāhir el-Bağdâdî (falecido em 429/1037), Cüveynî (falecido em 478/1085) e Fahreddin er-Râzî (falecido em 606/1209).
Segundo Maturidi, é possível estabelecer uma ligação entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido; essa ligação é real, e o conhecimento resultante não é ocasional, imaginário ou relativo, mas reflete a verdade. Isso porque os objetos possuem uma realidade fixa. O conhecimento que o homem tem de Deus e do oculto também é garantido pela existência do próprio universo; pois o universo observável aponta para um mundo invisível e, finalmente, para Deus.
De acordo com a definição acordada pelos teólogos Ash’aritas Bâkıllânî e Cüveynî, que precederam a ele, significa que o conhecimento deve corresponder exatamente ao seu objeto.
De acordo com uma das definições transmitidas por Juwayni, o conhecimento é “a iluminação sobre a essência do objeto conhecido”. No entanto, Juwayni considerou essa definição incompleta, pois ela significa alcançar o conhecimento após um estado de ignorância ou negligência sobre o objeto. Contudo, uma definição abrangente do conhecimento deve ser tanto inclusiva quanto exaustiva. Dessa forma, Juwayni também aponta para o conteúdo teológico do conhecimento.
Ao definir a vida como um atributo que caracteriza a existência, e que existe graças a ela, ele enfatiza a relação indissolúvel entre o conhecedor e o ser dotado de vida, ou seja, a estreita relação entre a razão e o conhecimento do ponto de vista humano.
De acordo com suas tradições, eles assumem uma posição firme contra as definições apresentadas, especialmente pela Mu’tazilite. A justificativa para isso é que a Mu’tazilite considera a crença e o conhecimento como a mesma coisa. De fato, teólogos Mu’tazilitas como Kâ’bî, Abû Ali al-Jubbâ’î e seu filho Abû Hâshim al-Jubbâ’î definiram a fé como “crença”. Com essa definição, fica claro que se pretende excluir a fé imitativa do conceito de conhecimento, e os Ash’aritas se opuseram a isso. Além disso, para eles, se o conhecimento fosse um tipo de crença especial, todo aquele que sabe também teria que ser um crente; no entanto, embora se diga que Deus é sábio, não se pode dizer que Ele é crente.
Na teologia, o conhecimento obtido pelos sentidos é necessário. Os sentidos são a fonte do conhecimento imediato. A razão ou consciência proporciona, além dos conhecimentos primários como os princípios da lógica e da matemática, a percepção de experiências como prazer, dor, alegria, saúde, etc.
ao atribuir a percepção à existência de um corpo físico, defende-se essencialmente que ela é material.
Eles insistiram na ideia de que a percepção é uma qualidade espiritual. Segundo eles, a percepção é uma faculdade criada por Deus; é a consciência da existência de algo. Da mesma forma, as sensações obtidas pelos cinco sentidos ocorrem neste mundo de acordo com a ordem estabelecida por Deus, ou seja, as sensações relativas ao mundo exterior também são objeto da criação contínua de Deus. Por isso, só se pode falar de sensações em sentido figurado. O conhecimento obtido pela razão é, ou necessário, ou seja, é dado diretamente pela razão, ou é obtido por raciocínio. Este último também é chamado de conhecimento teórico.
Segundo os teólogos, trata-se de conhecimento verdadeiro e conforme à realidade. Porque aqui também se cumpre a condição de conformidade com a realidade. No entanto, ou apenas, a informação transmitida de forma mutawatir não deve contrariar o conhecimento baseado na razão e na observação.
A questão de em que medida a razão deve ser usada na interpretação das mensagens trazidas pelo profeta tem sido objeto de debate entre os teólogos. Essas discussões estão relacionadas à limitação da razão.
Os Mu’tazilitas, ao contrário dos teólogos da Ahl-i Sunnet, atribuem à razão poderes mais amplos, argumentando que a razão pode saber se algo é bom ou mau antes da revelação da lei religiosa. Nesta discussão que gerou a questão, a Ahl-i Sunnet enfatiza a crença de que todos os assuntos religiosos são de origem revelada (naklî). No entanto, Maturidi afirmou que é possível para a razão humana alcançar o conhecimento da existência e da unidade de Deus.
No entanto, isso não significa que a fé se constitua inteiramente de conhecimento. Pois conhecer algo não implica necessariamente sua aceitação. Da mesma forma, não conhecer algo não implica necessariamente sua negação. Mas assim como o conhecimento pode desempenhar um papel muito importante na formação da aceitação pelo coração, a ignorância também pode levar à negação e à refutação.
Na filosofia islâmica, a questão do conhecimento foi abordada, em certa medida, no âmbito da lógica e, de forma mais ampla, no âmbito da metafísica.
Esta última disciplina leva em consideração a estrutura fisiológica do sujeito conhecedor, considerando-o como um todo.
Portanto, a questão de como o ser humano chega ao conhecimento pode ser resolvida dentro de uma doutrina sistemática, considerando todas as etapas da sensação, percepção, imaginação, fantasia, pensamento e conhecimento. Dentro dessa doutrina, são atribuídos significados funcionais aos caminhos da sensação, razão, experiência, intuição e inspiração, sem a necessidade de limitações absolutas como racionalismo, empirismo, experimentalismo e intuicionismo. No entanto, a razão é a faculdade de pensar da essência humana, que distingue o ser humano de outros seres vivos, e é a força que realmente possibilita o conhecimento.
A psicologia islâmica, delineada em linhas gerais por Al-Farabi, mas explicada detalhadamente por Avicena em seu livro, possui uma doutrina filosófica muito séria que constitui um ponto de partida para a análise dos atos de pensar e conhecer. Avicena, ao fundamentar a existência do eu (alma) como sujeito pensante e conhecedor, estabelece a realidade objetiva do mundo exterior, tanto possível quanto necessária, conseguindo assim fundamentar filosoficamente a relação entre sujeito e objeto que torna o conhecimento possível.
Ibn Sînâ, que considerava a doutrina da causalidade como indispensável para compreender a realidade do mundo exterior, e a incorporou tanto à essência da natureza quanto à estrutura mental, afirmou que era possível alcançar informações sobre o mundo físico e metafísico, seguindo da causa à consequência e, finalmente, à primeira causa.
Em sua expressão mais geral, o conhecimento do mundo físico se forma pela orientação da mente humana para o mundo exterior e pela abstração das formas dos objetos físicos de sua matéria, enquanto a matéria da existência, ou seja, a essência, permanece desconhecida. Nesse sentido, o conhecimento é um processo de abstração. Por meio desse processo, primeiro são compreendidas as formas dos objetos, resultando em representações (tasavvurât), e, com a ajuda dessas representações, chega-se a afirmações (tasdîkāt) na forma de proposições.
As tasdîkāt, expressas por meio de proposições afirmativas ou negativas, permitem a formação das figuras de raciocínio.
O processo começa com os dados fornecidos pelos sentidos sobre o mundo exterior; a transformação desses dados particulares em objetos imaginários e conceituais ocorre com a participação dos cinco sentidos, do sentido comum, da imaginação, da fantasia, da suspeita e da memória. No nível da imaginação e da ideia, embora os objetos sejam abstraídos mentalmente de sua matéria, eles não são totalmente abstraídos de suas características e condições materiais. Portanto, eles ainda estão em formas particulares. Na última etapa, a força que leva essas formas a um conhecimento universal e abstrato por meio de uma abstração completa é a razão teórica.
Portanto, os conceitos abstratos são “potencialmente inteligíveis” (mâkūl) enquanto a razão não os alcança, pois, enquanto não são efetivamente compreendidos pela razão, permanecem no estado de potência. No entanto, para que a razão possa conhecer e o inteligível possa ser conhecido, passando do estado de potência para o estado de ato, é necessário um suporte externo que nunca esteja em potência, mas que seja sempre ativo (faal).
Na filosofia islâmica, é graças a esse apoio, chamado de “inṣār”, que a razão humana entra em contato e pode, assim, desempenhar sua função e alcançar o conhecimento.
A razão ativa, identificada por Al-Farabi e Ibn Sina com Gabriel, é interpretada por Ibn Rushd como a realidade externa, contínua e real. Para os dois primeiros filósofos, essa razão ativa (hakim), que também é a fonte do conhecimento baseado na inspiração e revelação, reúne o sábio e o profeta, apesar de estarem em diferentes campos epistemológicos, em uma mesma fonte de conhecimento.
Observa-se que, com essas suas concepções sobre a fonte e a possibilidade da origem profética do conhecimento, Al-Farabi e Ibn Sina se aproximam, em certa medida, do iluminismo (Ishraqi). Ibn Sina, que explica a obtenção de resultados sem a necessidade do funcionamento discursivo da razão por meio dos termos intuição e inspiração, considera o profeta como o ser humano que alcança o ápice da intuição racional-cardíaca.
O profeta é aquele que, por meio de um poder que o filósofo chama de “razão sagrada” e por meio de uma iluminação angelical, compreende o funcionamento da existência de uma só vez, sem necessidade de aprendizado. A inspiração, por sua vez, é uma iluminação da qual o sábio é o receptor, como uma forma específica da revelação.
Considera a descoberta e a inspiração não como resultado de um esforço intelectual, mas como uma graça divina alcançada após uma purificação e vivência moral. O conhecimento místico, como indica o ditado “Quem não prova não sabe, quem não chega não compreende”, não pode ser transmitido a outros, pois é alcançado por meio de uma experiência pessoal. No entanto, o caminho para alcançar esse conhecimento pode ser mostrado, e consiste inteiramente em uma jornada espiritual. A adesão a esse caminho leva a pessoa, por meio de certas experiências místicas, à fonte divina do conhecimento.
Essa fonte é, em última análise, Deus; portanto, ela é um conhecimento.
À vista do místico, a impotência dos sentidos e da razão dedutiva em relação a essa fonte é evidente. Portanto, em vez de seguir o caminho teórico, indireto e incerto, baseado em investigação e pesquisa, é mais rápido e confiável preparar o coração para a inspiração divina, purificando-o de todos os maus sentimentos. O conhecimento sufista é, em resumo, a iluminação do coração com a luz de Deus, e não um ganho do sufista, mas uma graça de Deus.
Um dos grandes sintetizadores da história do pensamento islâmico, parece ter unificado as abordagens epistemológicas fundamentais da teologia, filosofia e sufismo em um único sistema. A busca por uma fonte confiável de conhecimento, a delimitação do conhecimento para evitar a confusão entre os campos de conhecimento e o esforço de criticar fontes de conhecimento como razão, sentidos e inspiração foram demonstrados de forma mais forte e sistemática por este pensador. Gazzâlî, que busca o conhecimento certo, que ele define como “conhecimento no qual nunca há dúvida”, parece abordar a questão principalmente do ponto de vista do valor do conhecimento.
De acordo com uma classificação amplamente adotada por Ghazali, a partir de Ibn Sina, e posteriormente por outros lógicos com algumas pequenas diferenças, todos os tipos de conhecimento são agrupados sob três termos principais: essencial e não-essencial. Estes, por sua vez, são classificados de acordo com sua fonte e valor.
Conhecimentos a priori que provêm da razão pura.
As percepções psicológicas de um indivíduo que não se originam dos cinco sentidos, como fome, sede, alegria e tristeza.
Impressões obtidas através dos órgãos sensoriais.
Experiências baseadas em hábitos mentais que surgem após a repetição frequente de dois eventos que se seguem um ao outro.
Informações obtidas pela aceitação racional de notícias fornecidas por um grande número de fontes confiáveis, independentemente da percepção.
Conhecimentos obtidos por meio da suposição de coisas cuja existência real é desconhecida (por exemplo, como uma proposição obtida por analogia com entidades percebidas).
Conhecimentos e proposições sobre os quais há consenso suficiente para serem considerados verdadeiros (por exemplo, como um veredicto).
O acervo intelectual sobre o conhecimento, tanto de Ghazali quanto o que foi desenvolvido antes e depois dele, com as contribuições de grandes pensadores como Ibn Rushd e Muhyiddin Ibn Arabi, ainda requer análise em todos os seus aspectos e possui doutrinas importantes que, com todas as suas diferenças, podem ser uma fonte de inspiração para a epistemologia moderna.
Com saudações e bênçãos…
O Islamismo em Perguntas e Respostas