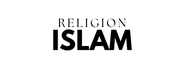Caro irmão,
É uma prova legal que expressa o consenso dos estudiosos islâmicos sobre a decisão de uma questão religiosa e os preceitos religiosos que todos os muçulmanos adotam em comum, e é a terceira fonte da jurisprudência islâmica, após o Alcorão e a Sunna.
significa, entre outros, consenso. O significado técnico que adquiriu na literatura religiosa não é independente do significado léxico da palavra e é definido, em linhas gerais, como consenso na metodologia da jurisprudência islâmica.
Não se trata de que se reúnam em um lugar e digam que aceitam a mesma ideia. Significa que podem estar em diferentes tempos e lugares.
Os juristas islâmicos consideram o consenso (ijma) como uma fonte de evidência legal e lhe atribuem um lugar na hierarquia das fontes de evidência legal, após o Alcorão e a Sunna.
Tenta-se prová-lo com o Alcorão e a Sunna, bem como por meio de raciocínio lógico. A prova de um consenso por meio de outro consenso geralmente não é aceita. O consenso dos Companheiros, no entanto, tem um lugar especial neste assunto.
Como prova do consenso (ijma) no Alcorão, são apresentados vários versículos, principalmente o versículo 115 da Sura An-Nisa.
O fato de que o primeiro deles tenha sido criticado severamente é interpretado como um indicativo de consenso.
Esses pontos são apresentados como significados que apoiam a ideia de consenso.
A maioria dos teólogos que defendem essa posição afirma que a prova mais forte para isso está na Sunna, citando numerosos hadices. Dois pontos em que esses hadices convergem são: a existência de um grupo que sempre estará no caminho certo dentro da comunidade islâmica, e, portanto, essa comunidade não se unirá ao erro e à desviação; e a necessidade de não se separar da comunidade (jama’a). Por exemplo, Al-Shāfi’ī, ao demonstrar a natureza vinculativa do consenso (ijmā’), aponta os hadices que ordenam a lealdade à comunidade como prova para seu interlocutor.
Embora os hadices em questão não sejam, individualmente, mutawatir (transmitidos por uma cadeia de narradores tão extensa que é impossível que tenham inventado a história), considera-se que o grande número de hadices que transmitem o mesmo significado tem a força de uma Sunna mutawatar e é suficiente para comprovar uma fonte.
Os argumentos racionais apresentados para provar que o consenso é uma fonte de direito concentram-se no ponto de que a lei divina persistirá até o fim da humanidade, que haverá sempre aqueles que defendem a visão correta entre os seguidores do Islã em cada época, e que a verdade não pode estar fora das conclusões a que os estudiosos islâmicos chegam, quer estejam em consenso ou em desacordo.
No entanto, muitos estudiosos de usul (metodologia islâmica) afirmam, de forma racional, que, assim como para outras comunidades, existe a possibilidade de a comunidade islâmica concordar em erro, e, portanto, para que o consenso (ijma) seja considerado um argumento válido, ele só pode ser baseado em evidências narrativas (hadith).
Entre os fundamentos do consenso (ijma), o consenso dos Companheiros (Sahaba) ocupa um lugar especial. O consenso dos Companheiros, que Ghazali também inclui entre as provas teóricas, apresentando-o como uma espécie de raciocínio lógico, é frequentemente apresentado pelos teólogos como prova prática em relação às condições e detalhes do consenso.
A capacidade de participar do consenso (ijma) pertence apenas aos mujtahids (especialistas em jurisprudência islâmica). Nos trabalhos de metodologia da jurisprudência islâmica, geralmente se fala de pessoas que podem participar do consenso.
O objetivo de tudo isso são os muçulmanos que atingiram a idade adulta, possuem discernimento e são capazes de obter os preceitos religiosos a partir de suas fontes.
No entanto, os especialistas em usul (princípios da jurisprudência islâmica) não hesitaram muito quanto à competência de fundadores de doutrinas independentes, como Abu Hanifa, Malik ibn Anas e Al-Shafi’i, e de estudiosos semelhantes entre os Sahaba e os Tabi’in. Influenciados pelas condições de seu tempo, sentiram a necessidade de discutir se, entre os estudiosos posteriores, os especialistas em usul ou os estudiosos diretamente envolvidos com soluções de jurisprudência islâmica deveriam ser considerados.
Embora existam defensores de ambas as opiniões, à medida que a discussão se amplia, o que é dito sobre o assunto converge, em última análise, para a qualificação de ser um mujtahid. Portanto, aqueles que não são mujtahids e são especialistas em hadiths, teologia etc., não devem ter influência sobre o consenso em um assunto de direito islâmico.
No sentido específico, o requisito é exigido; as pessoas conhecidas como tal geralmente não são consideradas aptas para participar do consenso.
Para que o consenso (ijma) se concretize, segundo a maioria dos teólogos, é necessário o consenso de todos os estudiosos (mujtahids) com capacidade de participar do consenso. A oposição de uma minoria, ou mesmo de um único estudioso, impede a formação do consenso.
No entanto, existem aqueles que defendem que o consenso (ijma) ocorre com o consenso da maioria, sem exigir a unanimidade de todos os estudiosos, e que não levam em consideração a opinião da minoria ou a oposição de pessoas abaixo do número de transmissão (tawatur), ou aqueles que, embora não considerem tal consenso como ijma, o aceitam como argumento. O ponto de partida das discussões sobre a opinião da maioria é, em grande parte, a interpretação dos hadiths que aconselham a não se separar da comunidade.
Por outro lado, alguns pesquisadores enfatizam o conceito de “igreja” (church), geralmente aplicável a todas as religiões, a ideia de “carisma” (charisma) em que esse conceito se baseia, a substituição do carisma pessoal pelo carisma oficial (institucional) após a morte do fundador da religião e o surgimento do conceito de (ismet), e, com base nisso, argumentam que o consenso (icmâ) no ambiente islâmico também se baseia na mesma base ideológica.
É estabelecido como resultado desta abordagem.
Nessa busca por semelhanças, Ahmed Hasan, baseando-se em Joachim Wach, após fazer longas comparações entre as instituições mencionadas e o consenso (ijma), conclui que o consenso se assemelha a elas em termos de ideia de proteção contra erros, mas não em termos de organização formal e mecanismos de funcionamento; e que, embora haja semelhanças teóricas e conceituais entre o consenso e as instituições mencionadas, não há semelhanças estruturais.
No entanto, um ponto importante que merece crítica em relação às alegações feitas nesse sentido é o ponto de partida.
teoricamente, isso levaria à conclusão de que não seria necessário buscar um carisma institucional após a morte do Profeta, e historicamente está comprovado que os muçulmanos não sentiam essa necessidade.
Embora se possa dizer que alguns eventos políticos alimentaram a busca pela infalibilidade e que, como resultado, surgiu a ideia do imã imaculado no Shiismo, não se pode afirmar que isso tenha se desenvolvido institucionalmente como em outras religiões.
A abordagem mais extrema que se pode ter a um assunto partindo de tal ponto de partida é a de inventá-lo.
Estabelecer uma semelhança além disso entre o consenso na religião islâmica e as instituições mencionadas acima seria forçar as coisas.
Basta mencionar isso para confirmar.
Alguns orientalistas também argumentam que o conceito de consenso dos estudiosos corresponde à “opinio prudentium” (isto é, a opinião dos sábios, dos homens de sabedoria e discernimento) no direito romano, uma autoridade designada pelo Imperador Severo. Joseph Schacht até mesmo registra que Ignaz Goldziher o apresentou dessa forma.
No entanto, é difícil dizer que existe um fundamento que justifique essa opinião. Antes de tudo,
A ligação que Schacht estabelece entre o surgimento do consenso (ijma) e a insustentabilidade das disputas jurisprudentes, por um lado, e a proposta de Ibn al-Mufaffa ao califa para a codificação da lei, por outro, é intrinsecamente inconsistente. Ibn al-Mufaffa, no relatório em questão, incentivava o califa a fazer uma escolha com o objetivo de alcançar a unidade jurídica; essa unidade, alcançada por esse meio, não violaria a legitimidade científica das outras opiniões, permitindo apenas que, na prática, a opinião escolhida pelo chefe de estado fosse a predominante.
Nesse caso, não seria correto considerar a proposta feita como um fundamento para a elaboração do consenso.
Por outro lado, Ahmed Hasan argumenta que, diante da impossibilidade de implementar essas propostas, que visam eliminar o caos no direito, por meio do Estado, esse resultado foi alcançado graças ao processo de aceitação e reconhecimento gradual dessas opiniões individuais pelos próprios muçulmanos, apresentando esse processo como um consenso (ijma).
No entanto, esse processo natural que garantiu a unidade jurídica ocorreu dessa forma, e qualificá-lo como consenso (ijma) leva a um resultado incompatível com a realidade histórica, negando a existência de diferentes escolas de pensamento na mesma época.
Ao determinar as bases históricas e ideológicas do consenso, seria mais apropriado descrevê-lo do que fazer explicações limitadas às condições e necessidades de determinados períodos ou estabelecer semelhanças com conceitos e instituições de outras religiões ou culturas.
O fato de a noção de consenso não ter sido contestada quando foi apresentada é uma prova clara da prevalência da compreensão de que, mesmo em épocas em que o conceito de consenso ainda não era usado, seria incorreto apresentar uma atitude ou pensamento divergente em relação a decisões que todos os muçulmanos percebiam da mesma forma.
De fato, quando a teoria do consenso começou a ser formulada, observa-se que não havia oposição fundamental a ela – como, por exemplo, em um raciocínio ou mesmo em um analogia. As objeções ao consenso são, na verdade, oposições decorrentes da impossibilidade de se considerar possível a formação do consenso em seu sentido teórico (o consenso que ocorreria em cada época pela unanimidade de opinião dos estudiosos islâmicos em uma questão que não se baseia em evidências definitivas); caso contrário, raramente se encontra oposição a um consenso que se sabe ter ocorrido.
Embora seja mencionado como um consenso absoluto por muitos estudiosos da metodologia islâmica, e apresentado como uma fonte de conhecimento certo, definitivo e com o valor de um versículo do Alcorão, o consenso é submetido a uma avaliação diferente quando analisado individualmente de acordo com suas características.
Por exemplo, ao explicar as fontes e os métodos a serem utilizados para determinar a decisão de uma questão religiosa, Al-Shaybani usa o consenso em dois sentidos.
O primeiro, e o outro também.
considera como fatos inquestionáveis os assuntos que são objeto do consenso do primeiro tipo, quando este ocorre.
Considerando-se suas declarações sobre o assunto em conjunto, observa-se que ele atribui ao consenso (ijma), que ocorre em assuntos sobre os quais não há um texto do Alcorão ou uma tradição do Profeta (que a paz seja com ele), uma posição posterior à do Alcorão e da Sunna.
O elemento que garante tal consenso é que, embora haja a possibilidade de uma transmissão do Profeta, Shafi’i, que diz que não se pode atribuir a ele o poder de transmissão apenas com base nessa possibilidade, se opõe a que a força vinculativa do consenso seja baseada na possibilidade de ele conter a Sunna.
Não querendo deixar essa opinião, que expressa uma reação à compreensão do consenso de Medina, como uma antítese, Al-Shāfi’ī liga o valor probatório do consenso à hipótese de não ser contrário à Sunna, partindo do princípio de que a Sunna pode ficar fora do conhecimento de alguns estudiosos islâmicos, mas não de todos, e que eles não concordariam em contradição e erro com a Sunna do Profeta.
Em suas declarações sobre o valor probatório do consenso (ijma), ele distinguiu dois tipos de consenso, baseando-se nos conceitos de certeza (compreensão) e obrigatoriedade (necessidade). Al-Shāfi’ī, em suas explicações que mais tarde levaram a amplas discussões entre os estudiosos de usul, lançou luz sobre o grau de precisão do resultado do ijtihad e sobre a questão de se a verdade perante Deus é única ou múltipla, usando a expressão para assuntos estabelecidos por meio de evidências que, à luz de critérios não definitivos, mas convincentes, formam uma forte convicção.
Os consensos narrativos, como os de primeira categoria, pertencem ao primeiro grupo e, quanto a eles, não se pode levantar dúvidas; o fato de não se poder afirmar a certeza para os do segundo grupo não significa que eles não sejam vinculativos. Al-Shāfi’ī, que acreditava que confiar em hadiths relatados como hadith-i wahid, mas considerados autênticos, era uma necessidade inevitável da vida religiosa e jurídica, inclui, neste grupo, além desses hadiths, o consenso dos estudiosos baseado em ijtihad e os resultados alcançados por meio do ijtihad.
Debûsî, um dos estudiosos da escola Hanefita, considera o consenso dos Companheiros (Sahaba) por meio de declaração explícita como o mais forte, e o consenso por meio do silêncio como o segundo mais forte. Em seguida, ele menciona o consenso dos estudiosos posteriores sobre uma opinião que não foi transmitida como uma divergência entre os Antecessores (Salaf), e o consenso sobre uma opinião que foi transmitida como uma divergência entre os Antecessores.
O ponto a considerar aqui é a necessidade; se for transmitido por um único relato, o assunto é controverso e há uma fraqueza significativa na força de fonte de cada consenso. Além disso, observa-se que o consenso em que todos os especialistas em consenso concordam é considerado um argumento definitivo, enquanto o consenso tácito, o consenso com poucos oponentes e o consenso transmitido por um único relato são considerados argumentos probabilísticos.
O valor de referência do consenso (ijma) é abordado em conjunto na literatura de metodologia.
Embora alguns estudiosos da metodologia islâmica afirmem que, para confirmar a natureza de fonte do consenso (ijma), é necessário que sua negação absoluta gere a pena de excomunhão (tekfir), ao se analisar em detalhes, torna-se difícil expressar isso.
Por exemplo, segundo os teólogos hanafitas, aquele que não aceita o consenso como meio de comprovação de um preceito não será considerado infiel, segundo Juwayni. Contudo, aquele que aceita o consenso como fonte e nega um preceito estabelecido por um consenso que ocorreu de acordo com as condições aceitas, será considerado infiel. É claro que negar o consenso em um determinado assunto, sem negar o consenso em princípio, não implica infidelidade.
Considerando que a ideia de proteger a religião da deturpação também é um fator na formação do consenso, pode-se dizer que a sanção da excomunhão visa proteger os preceitos essenciais da religião, sobre os quais um consenso natural já foi estabelecido.
O consenso, que os teólogos tentam distinguir com critérios como esses, é essencialmente sobre algo que tem base em fontes religiosas e cuja negação afeta os fundamentos da fé islâmica.
Quando se fala de consenso (ijma) de forma absoluta, atribui-se a ele um poder de fonte equivalente aos textos (nass), mas, considerando-se o assunto da excomunhão (takfir), entende-se que o consenso que possui esse poder é o consenso dos Companheiros (Sahaba) transmitido por via de transmissão contínua (tawatur).
Portanto, a abordagem de Al-Shāfi’ī, que limita a época dos Companheiros não apenas na teoria, mas também na prática, converge com o resultado obtido após a filtragem das discussões teóricas, e as palavras de muitos estudiosos de Usūl sobre o lugar do consenso na hierarquia das fontes tornam-se claras.
De acordo com isso, a igualação do consenso (ijma) às fontes tradicionais e, mais interessante ainda, a afirmação de que o consenso deve ser considerado em primeiro lugar entre todas as fontes, sendo explicado com a justificativa de que, embora haja a possibilidade de abrogação (nesh) no Alcorão e na Sunna, essa possibilidade não existe no consenso, poderá ser explicada, quando ocorrer, com o consenso dos Companheiros (Sahaba), que não foi contestado.
A apresentação de uma nova interpretação divergente não é considerada uma oposição ao consenso baseado em evidências narrativas.
Como o consenso, essencialmente, consiste, segundo Serahsî, na união de opiniões sobre algo, e como a influência das condições e necessidades do tempo é aceita em todos os tipos de ijtihad, incluindo o ijtihad feito por meio da interpretação dos textos, não é algo que se possa descartar a necessidade de se chegar a um novo consenso, considerando as novas condições, com base nas mudanças nas condições que afetaram o consenso anterior. No entanto, os teóricos do consenso geralmente evitaram dizer isso.
Pode-se considerar que isso se deve ao fato de que o resultado prático, que foi apontado anteriormente e que também se observa na compreensão do consenso de Shafi’i, influenciou muito a reflexão dos teólogos sobre esse assunto.
Assim como, ao se falar do valor de fonte do consenso (ijma), o consenso transmitido (ijma nakli) é levado em consideração, o ponto de vista deve ser o mesmo quando se trata da alteração do consenso.
Devâlibî também defende que a opinião de Pezdevî de que um consenso anterior pode ser revogado por um consenso posterior equivalente se refere a um consenso de ijtihad, enquanto a opinião contrária, expressa pela maioria de forma absoluta, é dominada pela compreensão de consenso de transmissão (consenso de hadith).
Pode-se dizer que o fato de esta questão ter sido examinada dentro do âmbito da terminologia também é um fator que leva os especialistas em metodologia a uma opinião negativa. Após um consenso sobre um assunto, se os mesmos estudiosos concordarem com uma opinião diferente de suas opiniões anteriores, isso não é considerado abrogação, mas sim uma revogação do consenso, e, segundo aqueles que exigem a extinção da era para que o consenso se concretize, isso também é possível.
Com saudações e bênçãos…
O Islamismo em Perguntas e Respostas